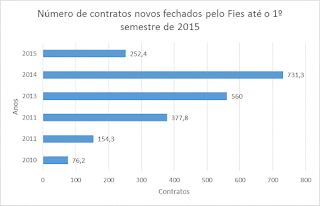Atualmente com 271 bilhões de euros de dívida, e sem alternativas atraentes, a solução menos pior para os gregos seria o acordo com seus credores
(Guylherme Marques Carvalho)
Com 320 bilhões de euros em dívidas ao longo dos últimos sete anos, a atual crise econômica na Grécia é resultado de mais de quinze anos de empréstimos tomados pelo governo grego para financiar seus gastos. Nos últimos anos, com as crescentes dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida pública grega, apenas instituições públicas internacionais, como FMI, União Europeia e Banco Central Europeu, tem oferecido recursos para o refinanciamento da dívida grega, ou seja, contrair novas dívidas para pagar as velhas dívidas.
Esse círculo de endividamento começou nos anos 1990, quando amplos financiamentos foram feitos para mascarar a situação das finanças públicas gregas, com o fim de atender os requisitos econômicos para aderir à zona do euro. Mais tarde, com o otimismo do crescimento grego a partir de 2001, o governo do país expandiu de maneira otimista seus gastos. Hoje, a Grécia deve um valor equivalente a 177% do seu PIB, algo equivalente a 270 bilhões de euros, segundo dados apurados pela BBC. Ou seja, toda a riqueza nova gerada em um ano de atividade econômica na Grécia não seria suficiente nem perto para pagar todas suas dívidas.
Para entender melhor a situação grega, é preciso lembrar que muitos desses empréstimos feitos pela Grécia que começavam a vencer no ano de 2010 não tinham como ser pagos, em virtude da recessão econômica que vivia o país ter derrubado a arrecadação do governo. O enorme déficit nas contas do governo verificado a partir de 2010 levou o governo a uma situação de eminente calote. A crise de 2008 atrapalhou muito os planos gregos, derrubando a atividade econômica e, assim, a arrecadação do governo, complicando as opções para reorganizar o cenário econômico do país. A partir desse momento, começaram a receber ajuda internacional para refinanciar suas dívidas. Primeiramente, um pacote de 110 bilhões de euros foi liberado pelos seus credores institucionais, mas pouco tempo depois, essa quantia foi elevada para 240 bilhões de euros (aproximadamente 890 bilhões de reais). Nem mesmo essa quantia foi suficiente para a “rolagem” da dívida grega, uma vez que o déficit continuava a crescer (gastos crescentes e arrecadação decrescente). Com isso continuava a crescer também a necessidade de endividamento.
Por essa razão, a cada novo acordo de refinanciamento da dívida, seus credores acabam exigindo como condição um rígido ajuste fiscal. Algumas das medidas que estão sendo exigidas pelos credores incluem reformas para diminuir as despesas do governo e aumentar sua arrecadação, como, por exemplo, reduções de gastos com aposentadorias e aumento de impostos. De 1999 a 2007, os gastos públicos, de acordo com o Eurostat, aumentaram em 50% na Grécia, um aumento bem maior que o verificado em qualquer outro país da União Europeia.
E é nesse cenário que Alexis Tsipras, líder do partido de esquerda radical Syriza, entra em cena.
Diante dessa situação, o “premier” grego optou por convocar um referendo para saber a opinião da população, a respeito da aceitação ou não das condições dos credores para o refinanciamento da dívida. No dia 5 de Julho, 61,3% da população votou pelo NÃO. Alguns dias mais tarde, a Grécia se tornaria o primeiro país desenvolvido a dar um calote (de 1,6 bilhão de euros) no FMI. Entretanto, a situação da Grécia acabou ficando na mesma, pois a solução adotada pelo novo primeiro-ministro grego foi aceitar os novos empréstimos europeus, refinanciando a dívida naquele momento, e renunciando ao seu posto, em seguida, convocando novas eleições para o mês de setembro.
Caso o governo grego realmente adote a opção de dar calote nas suas dívidas europeias, isso poderá acarretar consequências políticas e econômicas importantes. Como de praxe, em todos os mercados financeiros, moratórias fecham o acesso a novos empréstimos. Sem novos empréstimos, o ajuste autônomo seria ainda mais intenso. A outra possível consequência, a saída da Grécia da zona do Euro (sem que isso gere necessariamente sua saída da União Europeia), também geraria drásticas diminuições de investimentos e financiamentos. A saída ainda afetaria diretamente o comércio exterior, revogando os privilégios comerciais entre a Grécia e demais países europeus, aprofundando assim os impactos recessivos sobre a economia grega.
Uma grande preocupação do governo grego é não paralisar o sistema bancário do país, permitindo que os bancos continuem com dinheiro tanto para movimentar a economia, como para os saques diários da população. Saques que, desde julho, foram limitados para 60 euros diários para impedir que grandes quantias fossem sacadas em um curto período de tempo, como aconteceu entre os dias 12 e 19 de Junho, quando cerca de 3 bilhões de euros foram sacados em uma única semana pelos cidadãos.
Caso o governo grego realmente adote a opção de dar calote nas suas dívidas europeias, isso poderá acarretar consequências políticas e econômicas importantes. Como de praxe, em todos os mercados financeiros, moratórias fecham o acesso a novos empréstimos. Sem novos empréstimos, o ajuste autônomo seria ainda mais intenso. A outra possível consequência, a saída da Grécia da zona do Euro (sem que isso gere necessariamente sua saída da União Europeia), também geraria drásticas diminuições de investimentos e financiamentos. A saída ainda afetaria diretamente o comércio exterior, revogando os privilégios comerciais entre a Grécia e demais países europeus, aprofundando assim os impactos recessivos sobre a economia grega.
Uma grande preocupação do governo grego é não paralisar o sistema bancário do país, permitindo que os bancos continuem com dinheiro tanto para movimentar a economia, como para os saques diários da população. Saques que, desde julho, foram limitados para 60 euros diários para impedir que grandes quantias fossem sacadas em um curto período de tempo, como aconteceu entre os dias 12 e 19 de Junho, quando cerca de 3 bilhões de euros foram sacados em uma única semana pelos cidadãos.
Do ponto de vista da União Europeia, o perigo da saída grega seria o risco de um “contágio político”, pois se a saída da zona do Euro se mostraria uma opção viável (eventualmente até benéfica) para outros países europeus endividados como Espanha e Portugal, entre outros, que poderiam se inspirar no exemplo. Isso colocaria toda a estrutura da União Europeia em risco, pois o euro é e sempre foi o centro do projeto de união dos países e, até hoje, nenhum país abandonou esse projeto.
Mas a incerteza é a palavra que define a situação atual da Grécia. Uma saída da Zona do Euro e da União Europeia nesse momento seria uma jogada muito arriscada e que certamente traria mais malefícios que benefícios para o país. A Grécia não tem muito mais tempo para estabilizar sua economia, com mais e mais dívidas aparecendo e menos dinheiro entrando em caixa. O futuro do país, que foi berço da democracia, depende agora da vontade política e da criatividade dos líderes europeus.